Photographier les ruines récentes. Représenter les symptômes des changements globaux
Résumé
Cet article interroge la capacité de représenter en photographie les ruines nouvelles des villes américaines, de façon à problématiser les changements des sociétés contemporaines. En effet, la mondialisation et le capitalisme ont impliqué des transformations des villes et de l’environnement d’une ampleur sans précédent. L’accélération du rythme de vie, l’augmentation de l’émission de gaz à effets de serre, la pollution des sols, l’amenuisement des ressources exploitables, ou encore les crises économiques et sociales, sont autant de phénomènes symptomatiques que des photographies de ruines contemporaines peuvent amener à penser dans une approche renouvelée.
Mots clés : Art ; Photographie ; Ruines ; Entropie ; Anthropocène.
Abstract
This article questions the ability to depict through photography the new ruins of American cities in order to consider the changes of contemporary societies. Indeed, globalization and capitalism involve transformations of the environment and cities on an unprecedented scale. The acceleration of the pace of life, the increase in greenhouse gas emissions, soil pollution, resource depletion, as well as economic and social crises are all symptomatic phenomena that photographs of contemporary ruins can lead us to reflect on from a different perspective.
Key words : Art; Photography; Ruins; Entropy; Anthropocene.
------------------------------
Jonathan Tichit
Master 2 sciences de l’art
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Reçu : 20 octobre 2019 / Accepté : 28 juillet 2020
Photographier les ruines récentes. Représenter les symtpômes des changements globaux
Introduction
Des ruines d’un nouveau genre émergent depuis près d’un demi-siècle. Récentes, industrielles, du quotidien, faites de tout-venant (habitations ou usines abandonnées, terrains vagues et autres friches…), elles font l’objet d’un engouement important notamment de la part de photographes, professionnels autant qu’amateurs. Les ruines américaines sont tout particulièrement présentes aujourd’hui, avec Detroit pour figure de proue. La ville, déclarée en faillite en 2013, est devenue une sorte de destination incontournable pour des photographes et des adeptes d’un tourisme insolite, hérité de la pratique de l’exploration urbaine ou « urbex » (contraction des termes anglais urban exploration) qui consiste à visiter des lieux abandonnés en tout genre. L’analyse des images des bâtiments en ruine, que les explorateurs mettent en ligne massivement, invite à s’interroger sur le contexte dans lequel elles s’inscrivent : un rythme de vie accéléré et une interdépendance des phénomènes économiques et écologiques à l’échelle de la planète, auxquels les sociétés doivent faire face. Les processus de transformations des écosystèmes, reliés entre eux, tels que le réchauffement climatique, l’amenuisement des ressources énergétiques, la pollution de l’eau et des sols etc., que désigne l’expression de « changements globaux », ne sont pas sans conséquences sur les politiques locales. En témoignent les fermetures d’usines causées par la trop forte concurrence et une crise économique généralisée, qui laissent des locaux vacants, ou les inégalités face aux effets du réchauffement climatique qui nécessitent des adaptations variables en fonction des zones géographiques.
L’engouement photographique pour les ruines récentes, dans lequel se placent les explorateurs urbains et des photographes comme Yves Marchand et Romain Meffre, mérite d’être mis en perspective avec les œuvres, antérieures, d’artistes qui se sont intéressés aux espaces délaissés ou ruinés. Nous nous pencherons sur les œuvres photographiques et textuelles de Robert Smithson, dont le travail, de 1960 à 1973, constitué aussi de sculptures, d’installations et d’actions in situ, est représentatif du Land Art. Puis nous aborderons l’œuvre photographique de Lewis Baltz, entamée à la fin des années 1960. Les démarches de ces deux artistes sont très différentes. Elles ne sont pas non plus les mêmes que celles des explorateurs et des photographes de ruines d’aujourd’hui. Cependant, elles peuvent toutes être rapprochées des crises économiques, sociales ou encore environnementales, qui se succèdent depuis un demi-siècle. Elles permettent de s’interroger sur l’environnement urbain et son étalement, les espaces inclus dans son aménagement et ceux qui lui échappent, laissés en marge, à l’abandon.
De plus, en montrant les villes à travers leurs ruines, la plupart du temps désertes, ces images suggèrent une fin. Les vestiges représentés sans aucune présence humaine, semblent succéder à la disparition de notre civilisation, rappelant les récits post-apocalyptiques. Or ceux-ci prennent sens au prisme de la notion d’« Anthropocène » qui qualifie une nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions entrés. Car, depuis la révolution industrielle l’homme est devenu l’acteur majeur de la transformation de la planète : une transformation caractérisée par la multiplication des dégradations environnementales (surexploitation, gaspillage, pollution…) et que l’on peut retrouver dans des photographies d’espaces en déréliction. L’Anthropocène impute une cause écologique à la catastrophe que ces photographies imaginent. En effet, « l’Anthropocène n’est pas “ l’ère des humains ”, c’est une ère de la crise » (Lorius, 2010 : 81), l’époque de la fin de l’homme ou du moins du monde tel qu’il l’avait construit. Et c’est justement à présent que les villes accumulent les vestiges de la désindustrialisation qu’une prise de conscience commence à se généraliser.
Aussi l’analyse de photographies de ruines récentes permet d’aborder les symptômes des changements globaux, comme les conséquences à divers échelles du réchauffement climatique, de l’augmentation de la pollution ou encore de l’interdépendance des systèmes économiques, non pas directement, mais par une approche plus inédite. Ils peuvent, par exemple, à Detroit, prendre la forme de ruines causées par l’effondrement d’une économie basée sur l’industrie automobile. À San Quentin au nord de San Francisco, les terrains vagues jonchés de déchets, que photographie Lewis Baltz, renvoient quant à eux à des symptômes environnementaux. Il est manifeste, en tout cas, que dans notre monde d’images, dont les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent une circulation massive, la photographie joue un rôle prépondérant dans les esprits et les débats. Par ailleurs les États-Unis occupent une place de choix dans cette configuration. En effet, la première puissance mondiale, qui a été un moteur de la mondialisation et qui continue de diffuser son « mode de vie », voit apparaître dans ses villes des transformations qui découlent de ce processus d’interdépendances des nations à l’échelle planétaire. Les images des villes américaines face aux changements globaux apparaissent donc particulièrement signifiantes.
Certains artistes souhaitent directement révéler l’entropie à travers leurs photographies de vestiges récents et, plus largement, les symptômes environnementaux ou économiques révélateurs des changements globaux. À l’inverse, d’autres semblent construire une vision où la ruine n’est plus assumée comme symptôme mais idéalisée dans un effet de refoulement. C’est tout particulièrement le cas pour la ville de Detroit, dont les innombrables images d’édifices en déréliction, circulant sur internet, dérivent vers un voyeurisme, d’une part de l’objet dégradé, que l’on pourrait qualifier de pittoresque, et, d’autre part, de la catastrophe pour son aspect sensationnel. Même si les ruines sont alors idéalisées dans des photographies en décalage avec le réel, elles n’en évoquent pas moins les fins possibles que l’Anthropocène annonce. Néanmoins l’inquiétude face à ce destin, et le contexte des ruines, risquent d’être oubliés, voire masqués, par le caractère fictionnel du genre post-apocalyptique. Nous nous interrogerons donc sur la capacité de porter, par le biais de la photographie, un regard réflexif sur les ruines nouvelles des villes américaines, en tant que symptômes des changements globaux. Nous nous demanderons en quoi les photographies étudiées donnent lieu à une prise de conscience de ces symptômes ou au contraire les refoulent, pour ensuite voir si elles incitent à les dépasser ou, à défaut, à les accepter. Pour cela il s’agira de discuter de la capacité documentaire et pragmatique de la photographie développée dans les projets analysés. Nous chercherons à savoir si ces projets permettent de comprendre la ville, voire de jouer un rôle symbolique dans sa gestion, en revalorisant, par exemple, l’image d’un lieu délaissé voué à la destruction, pour motiver sa restauration.
I. Rendre visibles les symptômes
L’artiste américain Robert Smithson a consacré la majeure partie de ses œuvres (actions in situ, sculptures et d’installations mêlant textes, cartes photographies, prélèvements…), à l’entropie. Cette notion, initialement introduite en thermodynamique, « caractérise de façon quantitative les changements naturels spontanés, c’est-à-dire les changements qui peuvent se produire dans les systèmes, indépendamment de toute action de l’homme ou de ses engins » (Atkins, 1990 : 16). Elle a ensuite été déplacée vers d’autres domaines (économique, écologique) pour désigner le désordre nécessairement croissant auquel l’homme contribue. On peut se demander, à l’instar de Robert Smithson, si l’homme fait ou non partie de la nature. Souvent séparé d’elle, dans une opposition entre le naturel et l’artificiel, l’artiste rappelle que la distinction pose problème (Smithson, 1973 : 218). L’homme comme tout organisme vivant n’échappe pas à la loi de l’entropie. Alors même qu’il essaie de s’y opposer il ne fait que participer à sa croissance. Comme l’explique le mathématicien et économiste Nicholas Georgescu-Roegen, auquel se réfère Smithson,
Tout organisme vivant s’efforce seulement de maintenir constante sa propre entropie. Et dans la mesure où il y parvient il le fait en puisant dans son environnement de la basse entropie afin de compenser l’augmentation de l’entropie à laquelle son organisme est sujet comme toute autre structure matérielle. Mais l’entropie du système total, constitué par l’organisme et son environnement ne peut que croître (Georgescu-Roegen, 2011 : 71).
L’entropie met donc l’accent sur l’interdépendance des systèmes, en montrant que toute action nécessite de l’énergie et se répercute sur l’environnement de l’organisme qui produit cette action. Or, l’homme dispose de moyens particuliers, mécanisés, créant un désordre spécifique et considérable, devenu même majeur, au point de rivaliser avec les forces géologiques. L’entropie fut analysée comme telle par les chercheurs en sciences sociales ou les artistes, en ce qu’elle quantifie l’augmentation d’un désordre irréversible. Ce désordre décrivant le passage de l’énergie dite de « basse entropie » exploitable, à une énergie de « haute entropie » une fois exploitée, permet aux penseurs de la décroissance d’expliquer la crise de l’énergie, c’est-à-dire l’inexorable diminution des ressources disponibles (Georgescu-Roegen, 2011 : 67-69). En ce sens, l’entropie devient un modèle utile pour comprendre les changements globaux. Or, c’est cette conception de l’entropie qui est au cœur de l’œuvre de Robert Smithson.
Il propose ainsi dans son texte A Tour of Monuments of Passaic, New Jersey, accompagné de photographies, une vision entropique de la banlieue de la ville de Passaic. C’est a priori une banlieue fade, sans qualité ni particularité, mais Smithson y voit une incarnation du processus entropique dans lequel est pris l’homme, qu’il révèle par son texte et ses images. Il réalise ses prises de vue avec un Kodack Instamatic, un appareil d’assez mauvaise qualité. Les sujets qu’il photographie sont des canalisations, des murs en bêton marqués par des graffitis, des terrains accidentés et autres édifices décrépits… Ce paysage constitue un « panorama zéro » contenant des « ruines à l’envers », pour reprendre ses termes, « parce que les édifices ne tombent pas en ruine après qu’ils ont été construits, mais qu’ils s’élèvent en ruines avant même de l’être » (Smithson, 1967 : 180-183). Les constructions obsolescentes que Smithson érige en « monuments » sont des ruines antiromantiques, des utopies déconstruites, des devenirs qui n’ont pas abouti, des chantiers délaissés, des échecs d’adaptation face à un monde qui change trop vite. La ville est ici vue par les espaces que l’urbanisation a laissés en marge. Ce sont des espaces transitoires ; leur état est dans un entre-deux : ils ne sont ni vraiment abandonnés ni vraiment entretenus.
La « rudesse » de ces paysages peut rappeler la conception du pittoresque que William Gilpin développe au XVIIIe siècle (Gilpin, 1982 : 31). Il s’agit cependant d’un « pittoresque dialectique » explicité par Smithson (Smithson, 1993), non sans ironie ; un pittoresque renversé appliqué à des édifices sans qualité, dans des images dépouillées, dénuées d’esthétique, qui ne jouent pas avec les formes du lieu photographié mais le montre sans détour. En effet, l’artiste développe la dialectique conceptuelle du « site » et du « non-site ». Le « site » désigne le lieu où prend place l’œuvre (carrière abandonnée, désert, banlieue…) et qui est la composante principale de l’œuvre in situ. Le « non-site » désigne les documents (cartes, photographies, textes…), qui sont des fragments de l’œuvre et qui lui donnent en quelque sorte un accès visuel quand on ne se trouve pas sur le site où elle prend place : lorsqu’on est dans la galerie, dans le lieu d’exposition. Le « non-site » se définit comme n’étant pas le « site », qu’il ne fait que montrer ; il rappelle que l’œuvre est ailleurs. Dans la dialectique smithsonienne, la photographie n’est alors qu’un « vecteur » (Rouillé, 2005 : 434) de l’œuvre, rendant visible le « site » et l’entropie qu’il contient (Smithson, 1973 : 216-219). Le rendu peu travaillé de chaque image rappelle qu’elle n’est pas un tout autonome mais un fragment de l’œuvre parmi d’autres, comme le texte qui l’accompagne. Ces fragments constituant le « non-site » montrent le « site » tout en signifiant que le véritable matériau de l’œuvre smithsonienne est le « site » entropique lui-même, dans son emplacement réel.
On peut rapprocher le travail de Smithson des séries, plus récentes, San Quentin Point (1982-1983) et Candlestick Point (1986-1989) du photographe Lewis Baltz, bien que sa conception de la photographie soit différente. Ce dernier était présent à la célèbre exposition de 1975 « New Topographics : Photographs of a Man-Altered Landscape », à la George Eastman House de Rochester, aux États-Unis. Il se spécialise dans la photographie des banlieues, des abords de villes américaines, des terrains vagues, ou autres paysages indéterminés et délabrés, marqués par l’activité humaine. Là encore la ville n’est pas directement représentée mais son absence la remet justement en question. Où s’arrête aujourd’hui la ville ? Ses abords sont pris dans une urbanisation galopante qui fait disparaître, petit à petit, la distinction de l’urbain et du rural au profit d’espaces davantage indéterminés. Des zones industrielles, des zones pavillonnaires, des zones transitoires, des terrains vagues forment un nouveau type d’urbanité qui progresse sur les territoires alentours. Les photographies de San Quentin Point, plus encore que de Candlestick Point, montrent des terrains en friche, à la frange des villes, altérés avant d’avoir été délaissés. Les prises de vue, en noir et blanc, donnent à voir des paysages déserts, jonchés de détritus qui se mêlent à la végétation. L’angle de vue est basculé sur le sol de manière à ne laisser aucune place à la ligne d’horizon. De plus, la mise au point ne met l’accent sur aucun sujet en particulier. L’ensemble de l’image est net et très détaillé. C’est pourquoi, dans un premier temps, le regard erre sur la représentation sans trouver où s’accrocher. Ensuite l’attention commence à se porter sur les plus infimes détails, fouillant entre les herbes sèches et les objets en décomposition. L’homme n’est pas représenté sur les images. Cette absence rappelle l’état d’abandon effectif de ces terrains. En même temps sa présence a imprégné l’espace. Elle est rappelée sous forme résiduelle par les marques qu’il a laissées. Les déchets deviennent partie intégrante du paysage californien, fusionnant avec la végétation, unis dans la photographie en d’étonnantes textures grenues de matières pourrissantes.
Ce que propose Lewis Baltz, photographiant l’« in-photographiable » (Haworth-Booth, 1986), le rebut, le délaissé, c’est surtout un regard nouveau. Il suggère une nouvelle manière de voir les choses, une remise en question de nos échelles de considération pour des objets catalogués comme beaux, dignes d’intérêt et d’autres immédiatement abandonnés, perçus comme sans intérêt, comme rebuts encombrants, jetables. Il dénonce, dès son projet The New Industrial Parks near Irvine, California, le caractère anti-écologique du paysage qu’il photographie (Baudier, 2011 : 123). D’ailleurs, l’artiste déclarera en 1993 que le rôle des photographies est de nous montrer des choses « culturellement invisibles », non par dissimulation mais en quelque sorte parce que nous avons choisi de ne pas les voir (Baltz, 1993). C’est le cas des déchets que l’on préfèrerait ne pas voir pour éviter de répondre aux responsabilités que la vérité implique. Ainsi l’œuvre de Baltz porte, dans les années 1980, un regard sur la pollution et la dégradation de l’environnement qui est plus que jamais d’actualité. Ses images soulignent la dévastation du paysage. En même temps, les âpres conglomérats de clous rouillés, tissus, objets pourris et plantes séchées, trouvent dans le grain de l’image une texture inédite, d’une beauté certaine. La visibilité donnée aux terrains vagues où les déchets se trouvent mêlés à la végétation, apparaît comme une invitation, sinon au recyclage de toutes les ordures sans exception, à réévaluer la valeur des objets et à s’opposer à la conception du « tout jetable » de la société de consommation, qui a pu faire la richesse des villes américaines, mais dont les conséquences négatives ressurgissent à présent. Pour Bernard Lamarche-Vadel,
Le problème de Baltz n’est pas de faire des images, même si les images sont la condition de ce qu’il fait, encore moins d’instaurer un exotisme formel à valeur de signalisation esthétique. Baltz conduit des processus photographiques, il instruit et forme des passages pour figurer des devenirs. […] [Il] offre un cadre d’objectivation à la mort de l’homme et définit sa métamorphose dans la société anonyme des clients (Lamarche-Vadel, 1993 : 25).
Comme pour Smithson, l’intérêt premier de Baltz est moins de construire l’esthétique d’une image idéalisant l’objet photographié que de rendre compte de son incarnation du phénomène entropique. Mais bien qu’il instruise « et forme des passages pour figurer des devenirs », comme autant d’espoirs de changements pour un avenir meilleur, passant par une évolution de la société, il « offre un cadre d’objectivation à la mort de l’homme ». C’est-à-dire que ses images font pressentir une fin en train d’advenir : la fin non pas de l’être humain mais du système qui a fait de l’homme un « client », un être qui ne se résume plus qu’à sa consommation. Le travail de Baltz incite à voire l’Anthropocène en tant que « capitalocène », pour reprendre le concept d’Andreas Malm (Malm, 2017), mettant plus en cause le fonctionnement capitaliste que les individus, dans le basculement qui a fait de l’homme le principal acteur de la transformation des territoires. Les terrains dévastés qui intéressent Smithson et Baltz ne font l’objet d’aucun engouement. Leurs œuvres portent sur des sites loin d’être spectaculaires, appartenant au paysage du quotidien, et sont propices à développer une pensée critique.
II. Refouler les symptômes
Depuis quelques années, l’exploration urbaine appelée « urbex », activité souvent illégale et en principe marginale, consistant à visiter des lieux abandonnés, est devenue un véritable phénomène de mode via les réseaux sociaux, où les images des ruines explorées, souvent spectaculaires, sont partagées. La ville de Detroit fait figure de proue comme une destination privilégiée des explorateurs et photographes qui recherchent les lieux abandonnés. En effet, la ville après avoir connu un grand essor grâce à son industrie automobile, atteignant près de 2 millions d’habitants en 1950, a été mise en faillite à la suite d’importantes crises, causées surtout par la forte concurrence et les délocalisations. En 2017 elle ne compte plus que 673 000 habitants environ. Parallèlement, l’immigration des Noirs pauvres des États du Sud vers le Nord, depuis les années quarante, renforce les tensions raciales au sein de la ville, où éclatent en juillet 1967 de violentes émeutes. Les populations aisées, majoritairement blanches, fuient progressivement le centre-ville où se sont multipliées les fermetures de commerces et d’entreprises. L’abandon massif de bâtiments fonctionnels et d’habitations, laissés en proie au vol, au vandalisme et aux ravages du temps, a créé un champ de ruines, propice aux amateurs d’urbex.
Le duo de photographes français Yves Marchand et Romain Meffre, spécialisé dans la photographie de ce type de ruines contemporaines, s’est rendu à Detroit pour un projet aboutissant sur un livre photographique : Detroit. Vestiges du rêve américain (Marchand & Meffre, 2010) qui a fait leur renommée. Ils ne revendiquent pas pratiquer l’urbex car, à la différence des explorateurs urbains, ils préfèrent demander les autorisations aux propriétaires pour pénétrer sur les lieux qu’ils arpentent. Bien qu’ils se concentrent davantage sur la réalisation des photographies que sur le caractère transgressif et ludique de l’exploration urbaine (Lebreton, 2015), ces aspects ne sont pas absents de leur travail. De plus, ils partagent avec les adeptes de l’urbex l’attrait pour les formes dégradées qu’offrent les bâtiments abandonnés. Ce goût pour les images qui soulignent la monumentalité et l’allure photogénique des ruines aux textures pittoresques, s’est généralisé en un véritable effet de mode que les photographies de Marchand et Meffre rejoignent. Elles s’éloignent, par leur esthétique grandiloquente, du reportage ou du documentaire.
Pour la critique Diane Scott, « les ruines contemporaines articulent une fonction fétiche et une fonction symptôme » (Scott, 2019 : 149). Elle donne au symptôme un caractère social en prenant l’exemple des ghettos, qui constituent de véritables ruines contemporaines gênantes. Son hypothèse est que les ruines « fétiches » refoulent leur propre fonction symptomatique, de la même manière qu’elles cachent les ruines gênantes. L’amour pour des ruines, que la photographie idéalise, évite de penser aux véritables enjeux sociaux. L’admiration des représentations de ruines « fétiches », d’où l’homme est absent, détourne des autres sortes de ruines symptomatiques, comme les bidonvilles, qui sont des ruines habitées. Le statut de ruine, en tant que genre esthétique, de ces « fétiches » ne tient qu’à leur représentation, qui rappelle un peu le pittoresque des ruines romantiques. Les photographies de Marchand et Meffre en sont un bon exemple. Leurs cadrages soulignent, avec exubérance, la monumentalité des structures décrépites. Le recours à l’objectif grand angle, qui déforme les lignes des constructions pour élargir le champ, est, pour Scott, « l’équivalent libidinal du gros plan du film X, un appétit à l’égard du réel supposé de la chose » qui fait basculer leurs images du côté du ruin porn : une idéalisation fétichiste des ruines (Scott, 2019 : 66).
Ce fétichisme pour la ruine contemporaine repose en partie sur une fascination paradoxale pour la catastrophe, qui animait d’ailleurs aussi Smithson (Smithson, 1973 : 217). Cependant, le dépouillement des images de Smithson lui assurait d’éviter tout effet d’esthétisation. Ses prises de vue se limitent à un rôle de document qui rend visible l’entropie, et renversent le pittoresque. Le travail de Meffre et Marchand se concentre moins sur le processus de l’entropie et écarte, par ailleurs, totalement les habitants de la ville qui vivent à côté des ruines. Les effets d’images, qui construisent des ruines idéalisées, nous détournent de leur contexte. Leurs prises de vues représentent l’écroulement du rêve américain comme si tout était déjà joué, sans accroche véritable avec le présent ou avec l’histoire des lieux arpentés. Ils fabriquent finalement une fiction, dans laquelle, tels des archéologues du futur, nous retrouvons les restes d’un monde perdu, selon l’esthétique bien connue des récits post-apocalyptiques.
D’ailleurs, les habitants de Detroit se montrent critiques face à la tendance qui consiste à ne montrer que des ruines et non le reste de la ville (Grandbois-Bernard, 2016). Le contexte où les ruines sont implantées porte pourtant les signes d’une lutte contre le déclin de la ville, avec, par exemple, des bâtiments en cours de rénovation. De tels éléments pourraient également figurer au sein des prises de vue, or ce n’est pas le cas. En effet, la représentation décontextualisée de la ville que les explorateurs urbains, et autres photographes de ruines contemporaines font circuler présente la ville comme déjà morte. Le passé est idéalisé mais représenté comme perdu. Le caractère symptomatique, à la fois des crises que représentent ces ruines et des mesures prises par la ville pour y faire face, est cachée par l’esthétique pittoresque et sensationnaliste des images, qui en fait des ruines « fétiches ».
La réticence des habitants s’explique par un sentiment de faire l’objet de voyeurisme. Une image négative, erronée, de Detroit se construit à travers les représentations pléthoriques de ses ruines. Car le voyeur n’est pas l’observateur, il ne comprend pas les causes de ce qu’il voit, il ne s’attache pas à son histoire. Il se contente d’une monstration du réel dont l’esthétisation occulte le contenu. Et c’est presque dans la position de voyeur que nous sommes mis face aux nombreuses photographies des ruines de Detroit. Notre œil ne peut qu’être fasciné par la monumentalité des structures, attiré par les fractales baroques des entrelacs d’ornements, des couleurs et des textures dont la décrépitude élargit la variété. Les véritables traces de vies des gens qui habitaient là, ou qui y travaillaient, sont occultées par leur place décorative dans l’image. Finalement, le choix de la façade de la Centrale Michigan Station pour la couverture cartonnée du livre photographique de Meffre et Marchand est représentatif du projet. L’image, en all over, réussie techniquement, met l’architecture à l’honneur mais ne dévoile rien. Elle constitue un jeu formel, entre les bords du bâtiment qui coïncident avec ceux de l’image et du livre par la même occasion. Aucune place n’est laissée au terrain autour du bâtiment. Le contexte est absent. L’image a pour effet d’en rester au premier plan. L’intérêt est pictural : exacerber la plasticité des ruines. Les vues extérieures du projet Detroit. Vestiges d’un rêve américain, se réduisent au jeu formel des façades, les vues intérieures se concentrent sur les textures. Visuellement et symboliquement le contenu des ruines est réduit par l’effet de spectacle. La mémoire dont les ruines attestent risque d’être écartée.
III. Dépasser les symptômes ?
Nous avons étudié deux postures différentes. D’une part le travail de Robert Smithson et l’œuvre de Lewis Baltz représentent des symptômes des changements globaux, en rendant compte directement de l’entropie. D’autre part, les prises de vue d’Yves Marchand et Romain Meffre, comme celles des explorateurs urbains, tendent à une fétichisation des ruines, qui aboutit parfois à masquer les éléments qui les ont déterminés. Mais, entre ces statuts, la photographie peut-elle aussi devenir un moyen de reconsidérer les espaces délaissés en jouant sur son potentiel pragmatique ? Un projet photographique peut-il permettre à la fois de témoigner de l’évènement qui a causé leur ruine et de dépasser leur état de dévastation et la crise dont ils attestent ?
Considérons l’œuvre de Joel Sternfeld, Walking The High Line. Pour réaliser cette série de photographies qui donnera lieu à une publication (Sternfeld, 2001), le photographe américain a suivi le parcours de la High Line, une ancienne voie de chemin de fer surélevée de New York, qui était utilisée pour le transport de marchandises et qui fut abandonnée en 1980. Joel Sternfeld a utilisé une chambre photographique et a choisi de revenir plusieurs fois sur le site, pour réaliser ses prises de vue à différentes périodes de l’année. La végétation tient un rôle central dans ses images. Elle varie au gré des saisons et se mêle étroitement avec les tons de rouille des infrastructures ferroviaires délaissées. Elle participe à réanimer la poétique de la ruine, accentuant la valeur symbolique de cette dernière qui,
Associée au paysage, dont elle devient un élément au caractère affectif, […] s’y réintègre en partie et atteste ainsi la toute-puissance des forces naturelles. L’œuvre de l’homme est récupérée par la vie, concrétisée en l’occurrence dans la prolifération des herbes, du lierre, de la mousse et dans une extraordinaire variété d’arbustes et de fleurs (Mortier, 1994 : 223-224).
Les images de Walking The High Line, plutôt que de donner un aspect sensationnel à la ruine photographiée, mettent l’accent sur la poésie du site qu’elles invitent ainsi à redécouvrir. Mais, ici, il n’y a pas de sur-jeu, obtenu par des effets d’image, qui construirait un fétichisme de la ruine. Les vestiges de la High Line ne nous apparaissent pas négativement, principalement parce que le lieu ne témoigne pas d’un évènement traumatique, mais aussi grâce à la nature qui a réinvestit les lieux et que Joel Sternfeld met en valeur. La végétation, enregistrée au fil des saisons par le photographe, nous détourne de la dégradation de la High Line et apparaît comme une cicatrisation du paysage, qui semble « digérer » la structure de la voie de chemin de fer abandonnée.
Cette cicatrisation correspond à un travail de la nature qui rejoint celui du temps. Leur œuvre commune permet l’effacement du passé traumatique des « ruine violentes » qui ont été causées par un évènement dévastateur soudain. Elles deviennent alors progressivement des « ruines lentes », selon la terminologie d’Antoine Leblanc (Leblanc, 2010 : 254). Cette disparition des symptômes du passé avait déjà été repérée par Chateaubriand près de deux siècles plus tôt, qui distinguait les deux types de ruines. Pour lui,
les premières [que nous appelons ici « ruines lentes »] n’ont rien de désagréables, parce que la nature travaille auprès des ans. Font-ils des décombres, elle y sème des fleurs ; entrouvrent-ils un tombeau, elle y place le nid d’une colombe : sans cesse occupée à reproduire, elle environne la mort des plus douces illusions de la vie.
Les secondes ruines [que nous nommons « ruines violentes »] sont plutôt des dévastations que des ruines ; elles n’offrent que l’image du néant, sans une puissance réparatrice. Ouvrage du malheur et non des années, elles ressemblent aux cheveux blancs sur la tête de la jeunesse. Les destructions des hommes sont d’ailleurs plus violentes et plus complètes que celles des âges […] (Chateaubriand, 1828 : 389).
Or, de la même manière que la nature et le temps travaillent de concert pour réussir à effacer les blessures des ruines de guerre ou de catastrophes, les rendant petit à petit acceptables et appréciables au fur et à mesure qu’on oublie leur origine violente, la rapidité de la pousse de la végétation compense la vitesse de dégradation des ruines nouvelles. Le manque de pérennité des bâtiments récents qui deviennent des « ruines à l’envers », pour reprendre la terminologie de Smithson, est en partie masqué par la végétation qui rappelle un peu les ruines anciennes et fait paraître les édifices bien plus vieux qu’ils ne le sont. La lenteur du regard et de la déambulation de Sternfeld, conditionnée par l’encombrement de la chambre photographique qu’il transporte, comme ses retours successifs sur les lieux, vont aussi dans ce sens. Cette lenteur contemplative infléchie la considération de la High Line comme une « ruine lente » et végétale au milieu de l’effervescence de la ville. Elle constitue, en ce sens, une forme de résistance contre l’accélération du rythme de vie, collectivement ressentie, qui caractérise la modernité tardive selon le sociologue Hartmut Rosa (Rosa et Chaumont, 2015).
Par ailleurs le projet de Sternfeld a joué un rôle dans la sauvegarde et la rénovation de la High Line, qui était vouée à la démolition. Avec la mobilisation d’une association de riverains à la fin des années 1990, la voie de chemin de fer sera finalement transformée en parc urbain suspendu. Le projet retenu, soumis par James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro, a veillé à ce que la promenade, qui surplombe les rues, conserve un peu du charme de la friche (Méaux, 2015 : 115), en réinstallant au milieu des allées bétonnées certaines parties des rails rouillés entourés d’herbes hautes. On peut, en revanche, se demander dans quelle mesure cette réparation répond à des impératifs de type écologiques. En termes de cadre de vie et de sécurité la ville gagne à entreprendre de tels aménagements. Cependant on pourra remarquer que contrairement à la friche délaissée – qui constituait par l’absence d’entretien une réserve de diversité écologique tel que le soutient le paysagiste Gilles Clément dans son Manifeste du tiers paysage (Clément, 2004 : 56) – cette friche artificielle qui a demandé d’important travaux d’aménagements nécessite, de surcroît, un entretien permanent et ne possède plus la diversité que lui permettait l’état d’abandon. L’aménagement de la High Line en une promenade touristique encadrée par un règlement réduit aussi la variété de catégories sociales des personnes qui pouvaient arpenter la voie du temps de son abandon (Méaux, 2019). Devenue une destination touristique, la High Line conserve relativement peu sa mémoire ouvrière et succombe plutôt à la gentrification. D’ailleurs Joel Sternfeld voulait conserver la voie de chemin de fer abandonnée, sans nécessairement la rénover en promenade aménagée. Là où certains la voyaient comme un potentiel pour la création d’un projet d’architecture, il la considérait comme une chose déjà accomplie (Sternfeld. 2012 : 48). Ainsi le véritable dépassement des symptômes des changements globaux qu’opère le projet de Joel Sternfeld réside peut-être moins dans le fait qu’il ait contribué à la rénovation de la High Line, que dans la reconsidération de la friche comme espace de végétation, dans les deux sens du terme, face à l’accélération du rythme de vie.
Conclusion
Les photographies de ruines contemporaines permettent d’aborder les interrogations que soulèvent les changements globaux ainsi que les inquiétudes qu’ils engendrent. Elles évoquent les difficultés économiques et écologiques que traverse notre époque et entrent, par exemple, en résonnance avec la notion d’Anthropocène. La fin que ces images peuvent suggérer en donnant à voir un monde post-apocalyptique est rendue possible par le constat des spécialistes de l’Anthropocène : elle correspondrait à l’autodestruction, sans doute pas de l’humain, mais du système capitaliste, à l’origine justement de l’Anthropocène, dont nous pourrions sortir « avant même d’avoir compris que nous y étions entrés » (Lorius, 2010 : 120). Par ailleurs, les approches qu’engendrent les images diffèrent.
Tandis que certaines photographies représentent, par les ruines récentes, les symptômes des changements globaux, d’autres ont recours à des effets de style qui peuvent concourir à les occulter, en proposant une vision restrictive et idéalisée de ces ruines. Via les nouveaux réseaux de communication, la mise en ligne des images de ce type, permettant leur circulation rapide et massive, conduit à la création d’un voyeurisme généralisé qui construit une image en rupture avec le contexte et l’histoire de la ville concernée, une pornographie de ses ruines.
Pour peu que leurs prises de vue ne tombent pas dans ce fétichisme, les photographes semblent aussi pouvoir inciter au dépassement de ces symptômes, en soutenant des projets de requalification et de rénovation des lieux délaissés. En portant à la fois une attention particulière aux ruines et aux rebuts, mais aussi à la végétation et au cycle des saisons, ils nous invitent à repenser le monde qui nous entoure en modifiant nos échelles de valeur ou nos désirs de consommation. Leurs images conduisent à s’interroger sur le mode de fonctionnement de nos sociétés où tout se jette, s’abandonne à la décomposition, où la croissance et la rapidité sont recherchées au prix d’une augmentation exponentielle de l’entropie. Les artistes, avec les moyens qui sont à leur disposition, soulèvent donc des problèmes politiques. Leurs représentations permettent une médiation pour initier des réflexions sur les problèmes complexes que regroupent les changements globaux, et peuvent participer à une prise de conscience collective.
Bibliographie
Atkins Peter William (1990). Chaleur et désordre. Le deuxième principe de la thermodynamique. Paris : Pour la Science.
Baltz Lewis (1986). San Quentin Point. Paris : La Différence.
Baltz Lewis (1993). « Photography is a Political Technology of the Gaze », entretien avec Jean-Pierre Greff et Elisabeth Milon. American Suburb X. 11 mars 2011. [URL : https://www.americansuburbx.com/2011/03/interview-interview-with-lewis-baltz-2.html. Consulté le 2 mai 2020]
Baltz Lewis (2011), Candlestick Point [1989]. Göttingen : Steidl.
Baudier Denis (2011). « Lewis Baltz : la désagrégation en acte », Ligeia, Vol. 105-108, n°1 : 120-127.
Chateaubriand François René (1828). Génie du christianisme. Paris : Furne.
Clément Gilles (2007). Le Jardin en mouvement. De la vallée au champ via le Parc André-Citroën et le jardin planétaire. Paris : Sens & Tonka.
Georgescu-Roegen Nicholas (2011). La Décroissance. Entropie - écologie – économie. Paris : Sang de la Terre.
Gilpin William (1982). Trois essais sur le beau pittoresque, sur les voyages pittoresques et sur l'art d'esquisser le paysage, suivi d'un poème sur la peinture du paysage [1792]. Paris : Moniteur.
Grandbois-Bernard Estelle (2016). « Portraits de maisons à l’abandon. Ruines, photographie et mémoire des villes délaissées ». Frontières, Vol. 28, n°1. [URL : https://id.erudit.org/iderudit/1038862ar. Consulté le 20 février 2020]
Haworth-Booth Mark (1986). « Essai ». Dans, Baltz Lewis. San Quentin Point. Paris : La Différence.
Lamarche-vadel Bernard (1993). Lewis Baltz. Paris : La Différence, « Classiques du XXIe siècle ».
Leblanc Antoine (2010). « La conservation des ruines traumatiques, un marqueur ambigu de l’histoire urbaine ». L’espace géographique, Vol. 39, n°3. [URL : https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2010-3-page-253.html. Consulté le 2 mai 2020]
Lebreton Florian (2015). « L’urbex, une dissidence récréative en “nature” urbaine ». Nature et récréation, n°2. [URL : https://www.researchgate.net/publication/284730676. Consulté le 21 mai 2019]
Leguy Boris (2009). « L'émeute de 1967 à Detroit ». Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, Vol. 1, n°29. [URL : https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2009-1-page-17.html. Consulté le 3 mai 2020]
Lorius Claude et Carpentier Laurent (2010). Voyage dans l’Anthropocène. Cette nouvelle ère dont nous sommes les héros. Arles : Actes Sud.
Malm Andreas (2017). L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital. Paris : La Fabrique.
Méaux Danièle (2015). Géo-photographies. Une approche renouvelée des territoires. Trézélan : Filigranes.
Méaux Danièle (2019). « Des friches et des ruines ». IdeAs, n°13. [URL : http://journals.openedition.org/ideas/5622. Consulté le 5 octobre 2019]
Marchand Yves et Meffre Romain (2010). Détroit, vestiges du rêve américain. Göttingen : Steidl.
Mortier Roland (1974). La Poétique des ruines en France. Genève : Droz.
Rouillé André (2005). La photographie. Entre document et art contemporain. Paris : Gallimard, « Folio essais ».
Rosa Hartmut et Chaumont Thomas (2015). Aliénation et accélération : vers une théorie critique de la modernité tardive. Paris : La Découverte.
Scott Diane (2019). Ruine. Invention d’un objet critique. Paris : Amsterdam.
Smithson Robert (1967). « A Tour of Monuments of Passaic ». Version traduite dans, Gilchrist Maggie (dir.) (1994). Robert Smithson : une rétrospective. Le paysage entropique, 1960-1973. Marseille/Paris : Musées de Marseille/RMN, Diffusion Seuil : 180-183.
Smithson Robert (1993). « Frederick Law Olmsted and the Dialectical Landscape ». Version traduite dans, Gilchrist Maggie (dir.) (1994). Robert Smithson : une rétrospective. Le paysage entropique, 1960-1973. Marseille/Paris : Musées de Marseille/RMN, Diffusion Seuil : 210-215.
Smithson Robert (1973). « Entropie Made Visible », interview with Alison Sky. Version traduite dans, Gilchrist Maggie (dir.) (1994). Robert Smithson : une rétrospective. Le paysage entropique, 1960-1973. Marseille/Paris : Musées de Marseille/RMN, Diffusion Seuil : 216-219.
Sternfeld Joel (2012). Walking the High Line. Göttingen : Steidl.
Pour citer cet article
Jonathan Tichit, 2020, « Photographier les ruines récentes. Représenter les symptômes des changements globaux », RITA [en ligne], n°13 : novembre 2020, mis en ligne le 10 novembre 2020. Disponible en ligne : http://revue-rita.com/dossier-13/photographier-les-ruines-recentes-representer-les-symptomes-des-changements-globaux-jonathan-tichit.html



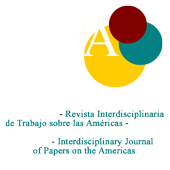









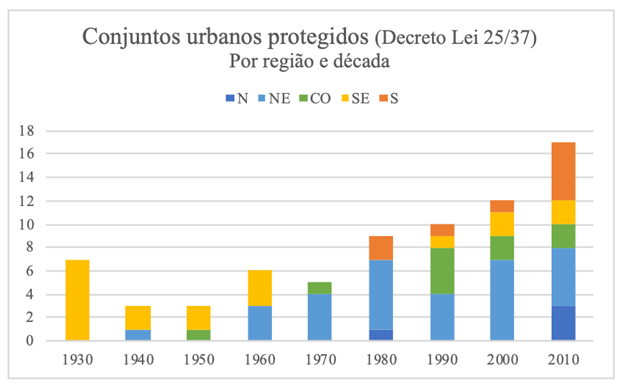
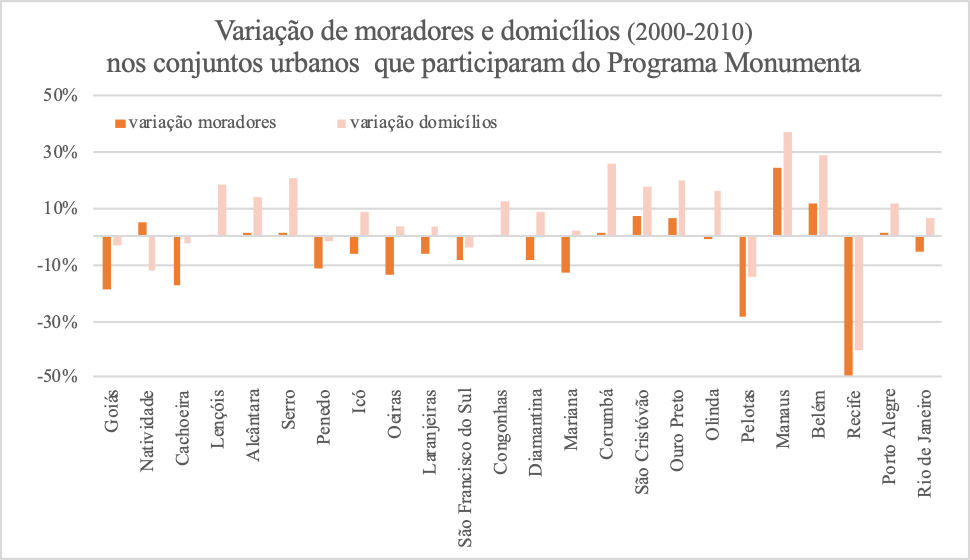


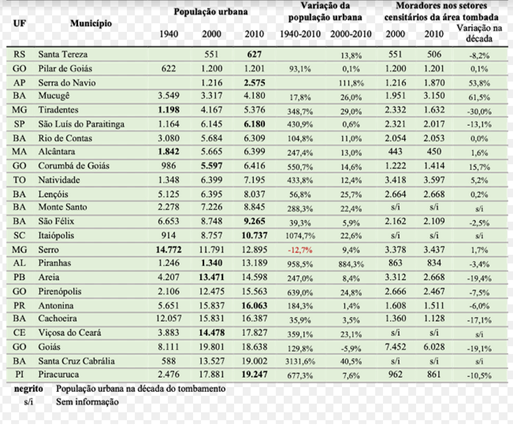
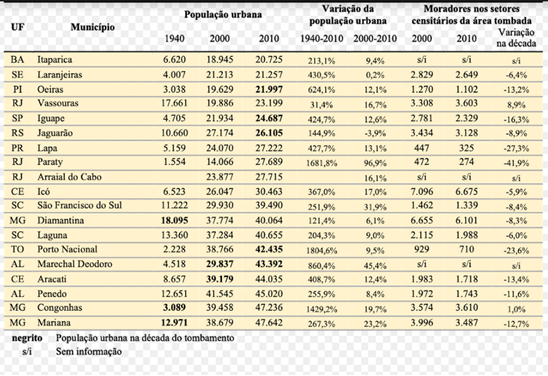
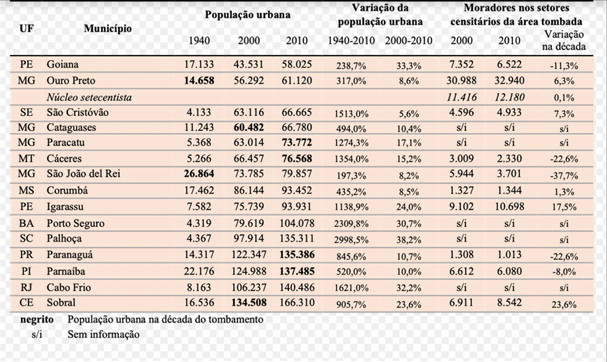
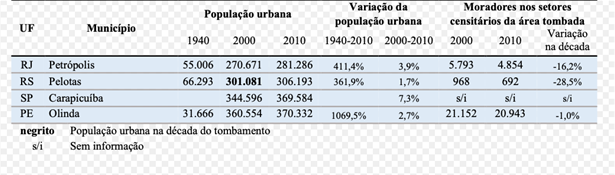

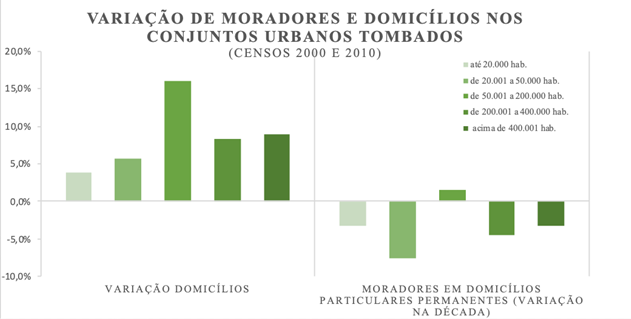
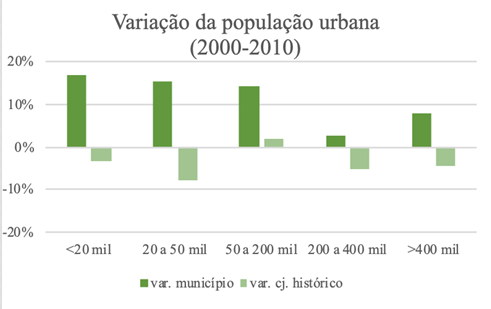
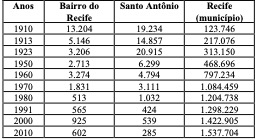
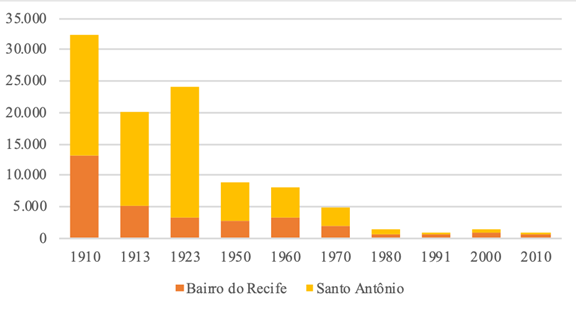
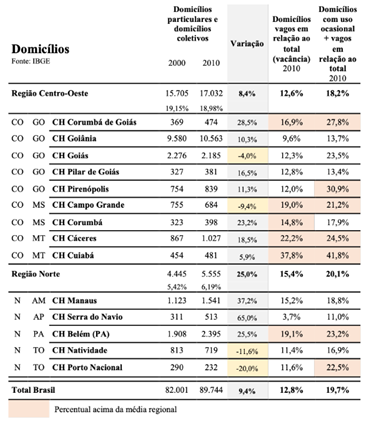
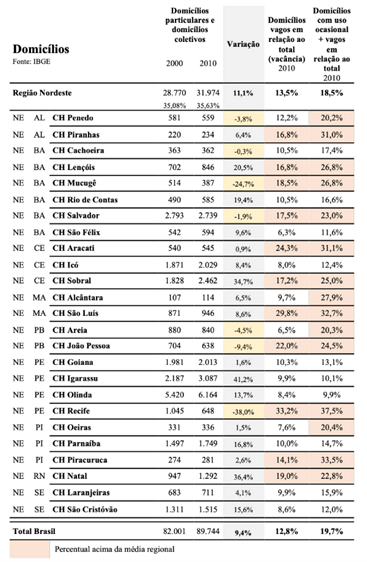
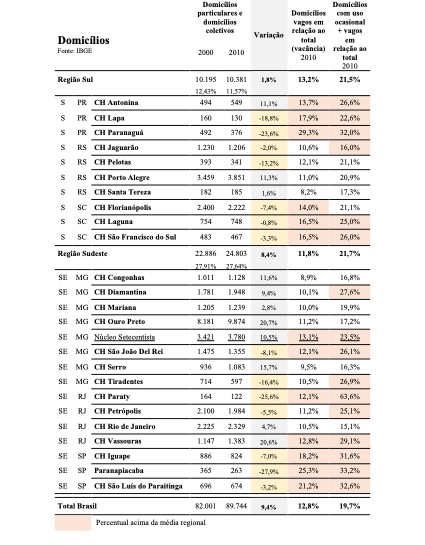

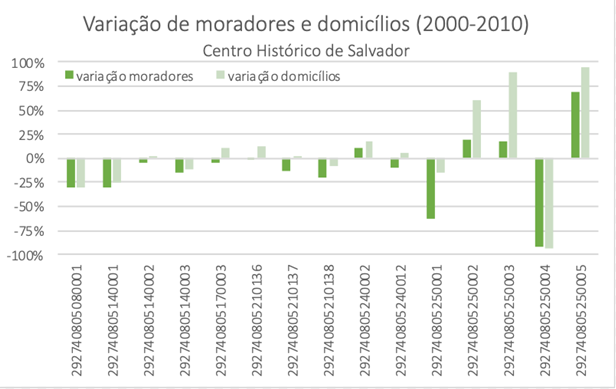
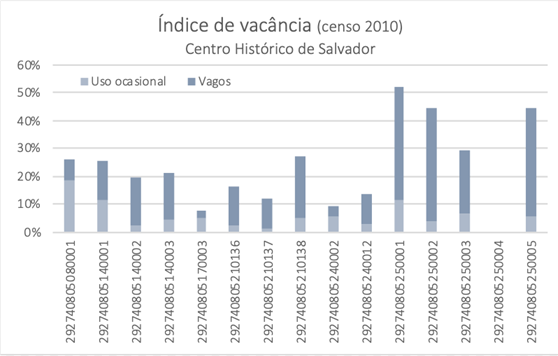
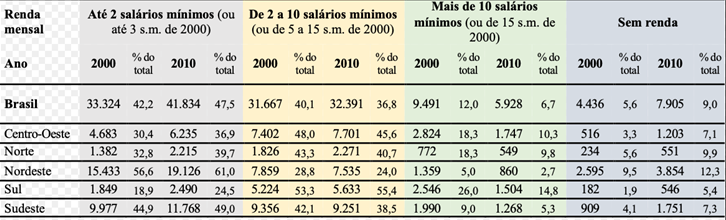
 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8